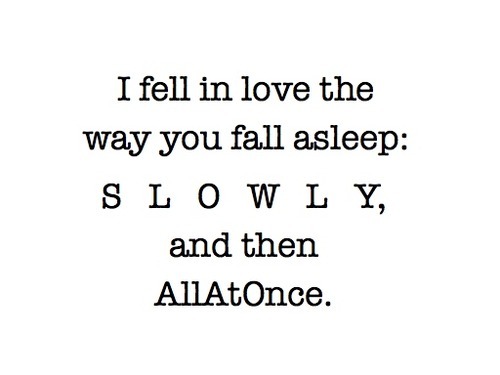Quando chego em casa muito cansada de um dia cheio de andanças - sejam elas pelas ruas daqui ou então as intelectuais - gosto de me presentear com um escalda pés. Sim, querido leitor, aquela bacia que sua avó enche de água quente para desinchar os pés depois de um dia cheio. Eu, com minha alma idosa, já cheguei a gastar algumas dilmas com o sachet próprio pra isso da Granado e foi lindo, mas o efeito que eu desejava só seria mesmo adquirido com um lacaio para me fazer uma massagem, que sairia um pouquinho mais caro que os sais cor-de-rosas. Outro ritual perfeito para esses dias de exaustão é o banho introspectivo, fantástico não só para momentos de cansaço extremo, mas também para dias meio melancólicos em que tudo que você deseja na vida é ouvir umas músicas tristes e sentir um pouquinho de pena de si mesmo.
Banhos introspectivos são muito simples, você só precisa de uma boa trilha sonora e água quente caindo sobre suas costas. Eu recomendaria um combo de Norah Jones, Cat Power, Damien Rice e os primeiros cds do Coldplay, luzes apagadas, velas de lavanda e algum produto de banho chique, seja um shampoo milagroso, uma máscara cheia de promessas, esfoliante corporal ou um óleo absurdamente cheiroso - que é pra você, mesmo na fossa, sair de lá se sentindo uma pessoa de respeito. Banhos introspectivos não combinam com grandes shows particulares embaixo d'água. Reserve aquele tempo simplesmente para contemplar seus pensamentos ou ignorá-los por completo, ouvindo a água cair e murmurando baixinho, de forma desafinada, de preferência, algum trecho da música.
Tanto o escalda pés como o banho introspectivo são realmente ótimos, recomendo fortemente, mas sempre que saio deles não deixo de soltar um suspiro profundo e pensar que seria uma pessoa mais completa se tivesse uma banheira em casa. Escalda pés relaxam e é uma delícia cochilar com os pés numa bacia de água quente com Friends na tv, mas fazer um escalda-corpo-inteiro seria ir para o céu e voltar carregada por bolhas de sabão. Banhos introspectivos são deliciosos e até possuem o adicional inalcançável da banheira de ter a água caindo sobre sua cabeça, mas a sensação de estar completamente imersa numa água cheirosa, rodeada por velinhas coloridas, ouvindo músicas tristes e podendo até mesmo ler um livro consegue ser melhor.
Parece exagero, mas não passo uma semana sem pensar em como minha vida seria melhor se eu tivesse uma banheira em casa. Aqueles que tem destroem meus sonhos dizendo que banheira é um item obsoleto que, uma vez dentro de casa, ninguém tem paciência para usar. Meus avós tem uma banheira que só serve para dar banho nos netos pequenos. Eu, quando fui uma neta pequena, já brinquei muito lá dentro. A única coisa que me impede de continuar usufruindo dela é o medo estúpido que tenho do banheiro da minha avó. Sim, é um banheiro de filme de terror e não tenho paz no coração suficiente para simplesmente fechar os olhos e relaxar depois de ter visto tantos filmes onde desgraças incomensuráveis acontecem a mocinhas inocentes que só queriam meia hora de paz e sais aromáticos.
Pode ser que vocês, meus avós e os futuros proprietários de banheira de fato desprezem o bem maravilhoso que tem em casa, mas me recuso a crer que eu, a pessoa que se dá ao trabalho de forrar o tapete da sala com uma toalha, esquentar água, gastar dinheiro com ~sachet-para-escalda-pés, aquela que por milhares de vezes tampou o ralo do box e ficou feliz demais quando a água cobriu seu peito do pé, tenha coragem de cometer o crime de ter uma banheira em casa e não usar. Eu não preciso de uma jacuzzi, de hidromassagem ou de uma banheira do tamanho de uma cama de casal. Aliás, eu não tenho o menor amor por banheiras modernas e tecnológicas. Gosto muito mais daquelas meio antigas, pequenas, com cara de apartamento antigo de Nova York, etc e tal. Eu só quero uma banheira com água quentinha, uma coleção de sais aromáticos, um estoque vitalício de velas, um cd da Jenny Lewis e a ideia na cabeça de que mesmo nos piores dias da minha vida eu sempre poderei chegar em casa e entrar de roupa e tudo num sonho quentinho com cheiro de lavanda, ir pro céu e voltar flutuando em bolhas de sabão.